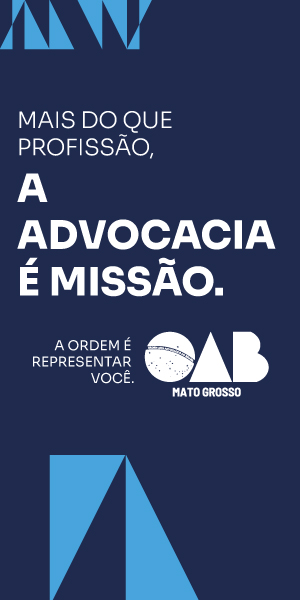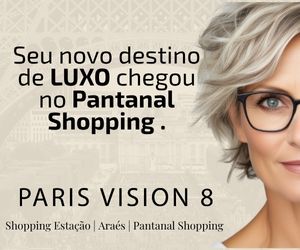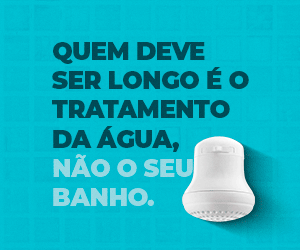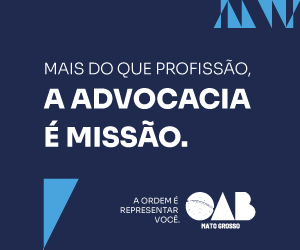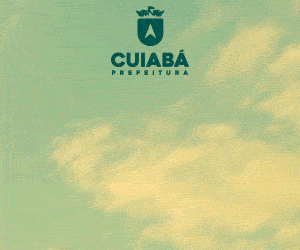ANDRÉ LUÍS TORRES BABY
O debate ambiental contemporâneo tornou-se refém de uma retórica quase religiosa, na qual a ideia de “salvar o planeta” é tratada como um ato de redenção moral da humanidade. A narrativa dominante, travestida de virtude ecológica, transforma a ciência em dogma e a política em penitência, convertendo o enfrentamento da mudança climática em um campo de fé e não de razão. Essa ortodoxia ambiental, ao substituir o realismo técnico por slogans apocalípticos, tem produzido uma contradição perigosa: em nome do futuro, sacrificam-se vidas e oportunidades no presente.
O editorial do Estadão (“O problema da utopia climática”, 03/11/2025) acerta ao advertir que o combate ao aquecimento global não pode ser travado à custa do desenvolvimento humano e econômico. A sustentabilidade, entendida em sua acepção jurídica e técnica, exige equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica, e não a negação de uma em favor de outra. Bill Gates, em How to Avoid a Climate Disaster (2021), reafirma esse ponto ao defender que a mitigação das emissões depende menos da austeridade e mais da inovação. É ilusório imaginar que decretos, fóruns e conferências possam substituir a engenharia, a ciência e o progresso tecnológico que efetivamente reduzem impactos e ampliam a qualidade de vida.
A história comprova que o crescimento econômico, longe de ser antagônico à proteção ambiental, é o seu principal aliado. Foi o avanço tecnológico, e não o retrocesso produtivo, que permitiu aos países industrializados reduzir significativamente seus índices de poluição. Desde os anos 1980, a eficiência energética, a economia circular e a transição para fontes menos intensivas em carbono têm demonstrado que prosperidade e preservação são forças complementares. Poluição e miséria caminham juntas; desenvolvimento e inovação as reduzem.
Contudo, o culto à pureza verde persiste. Sob o manto da descarbonização imediata, impõe-se uma visão irreal que penaliza agricultores, indústrias e consumidores, especialmente em países em desenvolvimento. Pretende-se eliminar combustíveis fósseis sem garantir alternativas estáveis, impor metas sem mensurar custos e transferir responsabilidades históricas de modo desigual. O resultado é o agravamento das desigualdades e o risco de paralisia econômica, sobretudo onde a pobreza energética ainda é uma realidade cotidiana. A transição ecológica, para ser legítima, deve ser também justa, gradual, técnica e socialmente inclusiva.
Nos centros urbanos brasileiros, a retórica da sustentabilidade colide com uma realidade dura e incontornável: ruas tomadas por lixo, ausência de coleta seletiva, destinação inadequada de resíduos e esgotos lançados in natura em rios e córregos, em flagrante violação às normas ambientais vigentes. A despeito de mais de uma década de vigência, tanto a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto a Lei nº 14.026/2020, que atualizou o Marco Legal do Saneamento Básico, permanecem amplamente descumpridas no plano municipal. O resultado é um retrato de ineficiência estrutural: mais de 30% dos municípios brasileiros ainda destinam seus resíduos a lixões ou aterros controlados, e cerca da metade da população segue desassistida por serviços regulares de coleta ou tratamento de esgoto. A mesma ineficácia normativa se repete na zona rural, onde o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), mesmo após mais de uma década de sua promulgação, alcançou a regularização efetiva de apenas 3,3% das propriedades rurais até dezembro de 2024, segundo o Diálogo Florestal (2024). Esse conjunto de omissões urbanas e rurais revela o paradoxo ambiental brasileiro: legisla-se com sofisticação sobre o meio ambiente, mas executa-se com negligência. A sustentabilidade, nesse contexto, permanece mais como retórica institucional do que como política pública efetiva.
A situação é ainda mais grave nas regiões mais pobres. Os indicadores de atendimento de água e esgoto no Estado do Pará, por exemplo, são alarmantemente inferiores à média nacional. Segundo o Saneamento Básico – Estado do Pará (PPI), o índice de atendimento de água no estado é de apenas 47,53% e o de esgoto, 7,73%, enquanto a média brasileira é de 84,83% e 54,95%, respectivamente. Esses números revelam um abismo estrutural: milhões de cidadãos amazônidas vivem em cidades sem rede de abastecimento, sem coleta sanitária e com resíduos sólidos descartados a céu aberto, o que impacta diretamente a saúde pública, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental.
Essa realidade urbana traduz duas falhas centrais: uma crise de implementação normativa, pois leis e políticas públicas ambientais existem, mas não se efetivam, e uma crise de justiça ambiental, pois os efeitos da degradação recaem sobre as populações de menor renda, que vivem em áreas precárias, sem infraestrutura e sem acesso a direitos fundamentais. A desigualdade socioambiental brasileira expressa-se, assim, na paisagem das periferias: onde o Estado é ausente, o lixo é cotidiano; onde o saneamento é inexistente, o rio é esgoto; onde a governança é frágil, a degradação se normaliza.
O Direito Ambiental, nesse contexto, precisa resgatar seu caráter racional e operativo. O princípio do desenvolvimento sustentável, consagrado no art. 225 da Constituição Federal e reafirmado na Agenda 2030 da ONU, não se confunde com idealismo retórico, mas exige planejamento urbano, transparência regulatória e prioridade social. Ignacy Sachs (2009) já defendia o “ecodesenvolvimento” como a união entre eficiência econômica, equidade social e prudência ecológica, um tripé que o Brasil ainda não consolidou. Enquanto a política climática internacional se ocupa de metas de neutralidade de carbono, nossas cidades seguem sofrendo com a ausência do básico: saneamento, gestão de resíduos e drenagem urbana.
Falar em “utopia climática” é, portanto, denunciar a dissonância entre o discurso global e a realidade local. A humanidade não será salva por metas abstratas, mas por políticas públicas concretas. O realismo climático, pautado na inovação tecnológica, na expansão de redes de saneamento, na destinação adequada de resíduos e na inclusão social, é o verdadeiro caminho para o futuro. A sustentabilidade genuína nasce do chão das cidades, onde o Direito Ambiental se transforma em dignidade.
A COP de Belém, em 2025, poderá simbolizar esse ponto de inflexão. Que o Brasil, anfitrião de um evento de escala planetária, não apenas discurse sobre o clima, mas demonstre ao mundo que o enfrentamento da crise ambiental começa pela garantia de direitos básicos. A neutralidade de carbono será inócua se persistirem córregos de esgoto a céu aberto. O planeta não precisa de novos dogmas, mas de coerência. E o futuro sustentável, antes de ser global, deve começar nas ruas limpas, nos rios despoluídos e nas casas com saneamento digno, no básico.
O mito da utopia climática se desfaz quando a sustentabilidade deixa de ser promessa e se torna prática. Salvar o planeta é possível, desde que o façamos com os pés na realidade e os olhos na razão.
André Luís Torres Baby Eng. Florestal, ME Sustentabilidade e Doutorando em Direito [email protected]