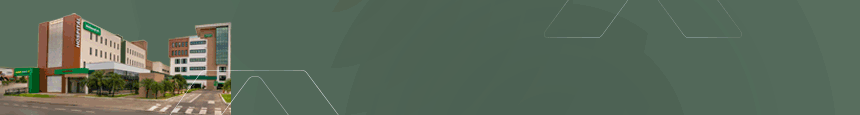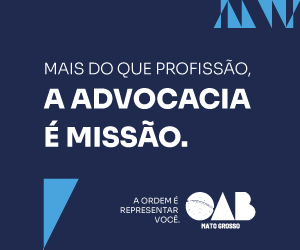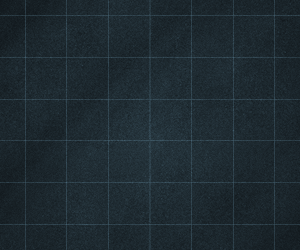FREDERICO MURTA
A discussão sobre a escalada da criminalidade no Brasil ganhou um novo contorno nas últimas semanas. Cada vez mais, é possível traçar paralelos claros entre o avanço das facções criminosas e as táticas de grupos terroristas pelo mundo. À primeira vista, a comparação pode soar exagerada — mas basta observar como esses grupos operam e o impacto que exercem sobre o Estado e a sociedade para constatar que não há fronteira real entre um e outro. O crime organizado brasileiro já atua sob a mesma lógica.
O termo terrorismo se origina do latim terror, que significa grande medo, alarme ou pânico. Embora o tipo penal vigente no Brasil seja restritivo, em sua essência esse termo não se define apenas pela motivação ideológica, mas também pela capacidade de impor medo coletivo e desafiar o monopólio da força estatal. É exatamente o que as organizações criminosas têm feito em diversos territórios brasileiros.
Criam códigos de conduta, estabelecem fronteiras, limitam o acesso e exercem controle direto sobre serviços básicos, como energia, telefonia e transporte. Isso é domínio territorial. Isso é poder político paralelo.
O que se observa nas comunidades dominadas por facções é a substituição gradual da autoridade do Estado pela autoridade do crime. As barricadas erguidas nas vielas do Rio de Janeiro, as execuções públicas transmitidas em tempo real e o uso de armamento pesado contra forças policiais são exemplos claros de estratégias de intimidação e propaganda.
Essas organizações também compreenderam o valor da comunicação. A título de exemplo, o grupo terrorista mundialmente conhecido — ISIS, ou Estado Islâmico — impõe-se por meio de transmissões ao vivo e da divulgação em massa de vídeos exibindo a execução de reféns.
Da mesma maneira que o terrorismo clássico se utiliza de vídeos e redes de comunicação para disseminar medo, o crime organizado brasileiro vem explorando a narcocultura como forma de propaganda. A romantização da violência e a idolatria de criminosos estão cada vez mais presentes. Clipes de funk exaltando facções, filmes e séries que retratam líderes do tráfico como ícones de resistência — tudo isso contribui para naturalizar a violência e corroer a noção de autoridade pública.
O resultado é devastador: um Estado acuado, uma população refém e uma juventude seduzida por uma narrativa perversa. Enquanto o crime opera com drones, granadas e redes de informação a todo vapor, o poder público ainda insiste em enfrentar essa guerra com estruturas burocráticas e estratégias ultrapassadas.
Reconhecer que há um caráter terrorista nas ações das facções não é apenas uma questão de semântica, mas de estratégia nacional. Ressalto que a simples mudança de nomenclatura também não produziria grandes efeitos.
Seria necessário um reenquadramento legislativo e jurídico, com ampliação das ferramentas de enfrentamento e das possibilidades de cooperação interestadual, fortalecendo o respaldo às forças que atuam na linha de frente. Fingir que enfrentamos uma “criminalidade comum” é fechar os olhos para uma ameaça que já ultrapassou fronteiras e se tornou um problema de soberania e segurança nacional.
Se quisermos evitar que o Brasil entre definitivamente nesse ciclo de dominação e medo, tornando-se oficialmente um narcoestado, precisamos agir com clareza conceitual e coragem política. As facções não são mais apenas quadrilhas. São sistemas. São exércitos informais que se impõem cada vez mais sobre o Estado. E o primeiro passo para vencê-los é reconhecer a dimensão real da ameaça.
Frederico Murta é delegado de Polícia Civil em Mato Grosso e coordenador da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE)