CHRISTIANY FONSECA
Mato Grosso lidera, pelo segundo ano consecutivo, o ranking nacional de feminicídios. Foram 47 mulheres assassinadas por serem mulheres em 2024, superando os 46 casos do ano anterior e consolidando a maior taxa do país: 2,5 feminicídios por 100 mil mulheres. Esses dados, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, não são apenas estatísticas. São alertas. São avisos ignorados. São a materialização de uma cultura que, apesar de todos os avanços legais, continua permitindo e muitas vezes legitimando que mulheres sejam mortas por desafiar um papel que lhes foi imposto.
Ainda há quem trate o feminicídio como uma tragédia repentina, algo que “ninguém esperava”, uma explosão de ciúmes, um “crime passional”. Mas o feminicídio não é o resultado de amor em excesso, é consequência de um sistema de dominação. Um crime de controle, de posse, de ódio. E mais do que isso: um crime anunciado.
Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entre os feminicídios analisados no primeiro semestre de 2023, 80% das vítimas não tinham medida protetiva ativa. Mais da metade jamais registrou boletim de ocorrência. E 67% das famílias sabiam da violência e não denunciaram. Ou seja: a sociedade sabia. E se calou.
Isso é o retrato direto de um dos ditados mais cruéis e clichês que ainda circulam: “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.” Essa frase, travestida de sabedoria popular, na prática, naturaliza a violência doméstica como algo privado, quando na verdade é um crime público, com raízes sociais profundas. Enquanto esse ditado for repetido, o silêncio seguirá como cúmplice da morte. Ele precisa ser urgentemente desconstruído.
O agressor não perde o controle. Ele exerce controle. Ele mata para reafirmar uma autoridade que acredita ser sua por direito. Como explica a antropóloga Rita Laura Segato, o feminicídio não é movido por emoção desgovernada, mas por um “mandato de masculinidade”: a exigência social de que o homem domine, controle e, se necessário, puna a mulher que rompe a expectativa da obediência. A violência, nesse caso, é uma tentativa de restaurar um poder simbólico que ele sente ter perdido.
Essa lógica é ensinada cedo. Muito cedo. O menino é socializado para dominar. Aprende que chorar é fraqueza, que impor respeito é sinônimo de dureza, que ocupar espaço é sinal de força. Aprende que o “não” pode ser revertido.
Mas como esse menino vai desconstruir o machismo, se ao seu redor o que ele vê é a reafirmação da desigualdade? Se ele cresce num país onde as mulheres ganham, em média, 22% menos que os homens para a mesma função. Onde apenas 17% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. Onde, nas empresas, os cargos de chefia e liderança seguem sendo majoritariamente masculinos. Onde, dentro de casa, o cuidado com os filhos, a casa e os idosos ainda recai, de forma quase exclusiva, sobre as mulheres, mesmo quando trabalham fora. Onde, nos espaços de poder, quem decide continua sendo, na maior parte do tempo, homem. O feminicídio é apenas o último estágio de um processo de desumanização iniciado muito antes nos detalhes diários da desigualdade.
Essa estrutura comunica algo silencioso, mas poderoso: que a mulher vale menos. Que sua palavra importa menos. Que sua autonomia é perigosa. E que seu corpo pode ser punido quando ultrapassa os limites impostos.
É dentro dessa lógica que o feminicídio se torna possível. Porque ele não é um acidente, é parte do projeto de manutenção da hierarquia de gênero. Como explica Pierre Bourdieu em sua obra “A dominação masculina”, o poder dos homens sobre as mulheres é reproduzido não apenas pela força física, mas por um sistema simbólico, institucional e afetivo que naturaliza essa assimetria como se fosse inevitável.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública também revela que quase 80% dos feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros da vítima. Isso significa que o perigo, muitas vezes, está ao lado, dorme junto, faz parte da rotina. E mesmo assim, é comum vermos a sociedade julgar a mulher que permanece nesse relacionamento, como se a saída fosse simples. Mas ela não é.
Em muitos casos, existe dependência emocional, dependência financeira, medo real. Há mulheres que sabem que, se saírem, não estarão mais protegidas, pelo contrário, estarão mais vulneráveis. Porque sair pode ser, justamente, o estopim da perseguição. A liberdade pode custar a vida.
E essa naturalização da violência está em todo lugar. Está nas instituições que falham em proteger. Está nos julgamentos morais contra a vítima (“mas por que ela voltou?”). Está nos vizinhos que “não querem se meter”. Está na justiça que retrasa. Está nas famílias que preferem o silêncio. Está nas escolas que evitam falar sobre gênero. Está nas políticas públicas que não chegam. Está nas leis que existem, mas não são fiscalizadas. Está no Estado que entrega à mulher, no máximo, um papel e espera que ela sobreviva com ele.
O papel da medida protetiva, sem acompanhamento, é só isso: papel. E ele não detém um agressor decidido a matar. Serve apenas para documentar que o perigo era conhecido e a morte, evitável.
Por isso, formar esse menino de outro jeito é urgente. Não é possível discutir feminicídio sem discutir gênero na infância. Sem debater relações afetivas na escola. Sem ensinar o que é consentimento, respeito, equidade. O espaço escolar precisa ser lugar de desconstrução dessa masculinidade que oprime e, muitas vezes, mata. E isso exige coragem institucional, investimento e políticas públicas que enfrentem o machismo na base da formação social.
O feminicídio, portanto, não é apenas uma tragédia. É consequência e permissão. Consequência de uma cultura que legitima a posse, e permissão de uma estrutura que não age com urgência. Enquanto tratarmos o feminicídio como exceção, ele continuará como rotina. Enquanto nos escandalizarmos com a morte e ignorarmos os sinais que vieram antes, vamos continuar enterrando mulheres que gritaram e não foram ouvidas.
Por isso, a pergunta essencial não é apenas “como punir esse homem?”. A pergunta que precisamos repetir em alto e bom som é: Quem legitimou esse homem a matar? Quem legitimou que ele podia? Quem se calou enquanto ele ameaçava? Quem achou que era “briga de casal”? Quem disse que “ciúme é amor”? Quem não viu ou preferiu não ver?
Muitas vezes, a sociedade responde ao feminicídio com pedidos por mais repressão. E, sim, a impunidade não pode existir. Mas a repressão por si só não altera a raiz do problema. Sem uma mudança radical na estrutura cultural que legitima a inferiorização da mulher, não há medida penal que dê conta da dimensão do que está em jogo.
Algemas prendem o agressor. Mas não quebram a cultura que o formou. E enquanto essa cultura seguir operando nas escolas, nas famílias, nas empresas, na política, na mídia, nas instituições públicas, nenhuma mulher estará realmente protegida. Nem mesmo com um boletim na mão. Nem mesmo com a lei do lado.
Quando a cultura não muda, o agressor não hesita. E a próxima mulher já é estatística antes mesmo de ser notícia.
Christiany Fonseca é Professora Efetiva no IFMT, Cientista Política e Doutora em Sociologia


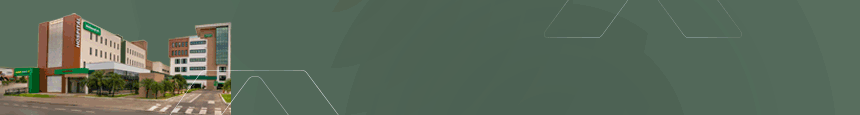
















MARIA JULIA VENTRESQUI GUEDES 28/07/2025
Excelente sua análise! Parabéns! Realmente está na hora de mudar esse cenario triste que impera em nosso país!
1 comentários